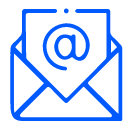Colunistas

Jornalismo com precisão: uma maneira útil para o jornalismo de saúde
Por: Jorge Galindo*
Detroit, 1967. Uma onda súbita de protestos deixa 43 mortos, 2.000 edifícios destruídos, 7.200 pessoas detidas. Ninguém na cidade esperava por isso. Toda a imprensa local saiu para buscar explicações.
Três teorias começaram e emergir durante a cobertura. A hipótese sobre classe social colocava os manifestantes como pessoas de classe socioeconômica baixa, sem outra forma de se expressar.
A teoria da não assimilação dizia que a origem da revolta estava na população afro-americana de Detroit: eram imigrantes do sul dos Estados Unidos, mais rural, e com dificuldades em se adaptaram à cultura do norte do país.
Por último, outras pessoas argumentavam que era uma questão de frustração de expectativas da população afro-americana com lentidão nos avanços da inclusão socioeconômica, cultural e cotidiana.
Esta é a história com que Kiko Llaneras e eu começamos nosso capítulo dedicado ao jornalismo de precisão no livro Cada mesa, un Vietnam, que me lembrei com frequência durante esta pandemia, e pela qual decidi começar para armar esta proposta sintética de aproximação jornalística. Porque ela não é apenas um mito fundacional, mas um exemplo privilegiado do problema que soluciona.
A forma habitual do debate público em dar explicações ante um fato surpreendente é por meio de explicações e evidências cruzadas em notícias, artigos de opinião, comentários, etc.
O problema é que cada voz, cada meio, parte de seu conhecimento inicial – de seu viés – e o contrasta com a evidência parcial que suporta sua tese de partida. Como consequência, não se adiciona informação chave para o público. Não é um sinal preciso. O barulho domina.
E isso, mais ou menos, é o que aconteceu em Detroit em 1967.
Mas Philip Meyer, da Detroit Free Press, decidiu tentar uma aproximação diferente. Fez uma pesquisa aliada a uma investigação qualitativa sistêmica, de corte sociológico, entre a população alvo para depurar as três teorias.
O estudo mostrou que as pessoas nascidas no norte tinham maior probabilidade de participar nos distúrbios que aqueles de origens sulista, descartando assim a hipótese de falta de integração. Também mostrou que o nível educacional e o status econômico não eram bons indicadores para prever o comportamento arruaceiro, descartando assim a hipótese classista.
Assim, a hipótese da frustração de expectativas ganhou relevância como resposta ao porquê das revoltas.
Este exemplo deu origem ao conceito de jornalismo de precisão, dado pelo próprio Meyer, e que não significa outra coisa que não juntar a atitude científica com a jornalística. Ambos os exercícios têm um objetivo final em comum: a busca pela verdade.
Em sua versão mais realista, isso não significa sintetizar a informação para facilitar a extração dos conhecimentos que guiam nossa compreensão dos fenômenos relevantes para nós.
É, definitivamente, um processo de compreensão da informação para que ela se torne mais acessível. Um processo que não termina nunca (não existe verdade final, absoluta): cada resposta pode ser descartada se aparece uma nova informação; cada resposta gera novas perguntas. Mas é um processo que faz com que, idealmente, estejamos um pouco menos equivocados em cada passo que damos. Ou seja, ganhamos precisão. O jornalismo usa essa precisão, aspira a produzi-la e viver com ela.
A ciência nos sugere uma estrutura metódica que aumenta a precisão dos nossos resultados:
– Formulamos uma conjectura para explicar um fenômeno ou diagnosticá-lo.
– Transformamos essa conjectura em uma hipótese comprovável.
– Obtemos dados para colocar à prova a validez da hipótese.
– Tiramos conclusões, sempre provisórias: descarta-se a hipótese se as evidências não as sustentam. Caso contrário, a hipótese será corroborada por tentativa.
Isso é o que Meyer fez com os distúrbios de Detroit de 1967. É o que muitos de nós fizemos durante a pandemia com cada pergunta que aparecia. E é, definitivamente, um bom guia para abordar perguntas sobre o futuro, especialmente no jornalismo de saúde, que faz perguntas sobre temas importantes que exigem por parte do público não respostas definitivas, mas precisas, pois guiam seus comportamentos em algo essencial para a vida.
A pandemia nos mostrou (ao menos para mim) cinco caminhos chave, complementários entre si, para fazer do trabalho jornalístico algo mais preciso. As duas primeiras servem como ponto de abordagem às perguntas que nos fazemos, a terceira e a quarta são estratégias analíticas, e a última um aprendizado e reconciliação com o paradoxo central da exploração da realidade, por definição inalcançável em sua totalidade.
A primeira rota é a exploração da evidência científica disponível em relação a cada dúvida, desde a eficácia ou efeitos secundários de uma vacina específica até o potencial de propagação de uma doença nova. Antes de mais nada, é crucial entender o campo de jogo e extrair os conceitos chave.
Para isso, o melhor a ser feito é ir do mais genérico ao mais específico: iniciando a exploração com meios ou referências que tenham um conteúdo excelente, mas divulgatório (os blogs das revistas científicas em vez das revistas em si, por exemplo), porque isso vai nos dar palavras-chave, as ideias essenciais que logo vamos procurar nas revistas especializadas. Se fazemos esse processo ao contrário, o risco é que escolhamos uma ferramenta precisa, mas inadequada. A precisão se constrói pela abertura ao tema, e de aí vai fechando o foco.
Em paralelo, e levando em conta que ler ciência nem sempre é suficiente, o acesso direto aos criadores de conhecimento científico se consolidou como uma rota chave durante esta pandemia.
A relação com estas fontes se baseia no compromisso de que reproduziremos seus aportes de maneira fidedigna, sem simplificá-los muito e sem eliminar as dúvidas. Isso é crucial, porque, alinha nosso objetivo de dar informação relevante ao público com o objetivo da fonte. Sem esse alinhamento, talvez tenhamos manchetes mais fortes ou respostas mais contundentes (menos “ainda não estamos certos disso”) a curto prazo, mas a longo prazo vamos deteriorar a fonte do conhecimento e a confiança do público no que temos a dizer.
Depois podemos trabalhar com os dados que se produzam em torno às perguntas que nos interessem. Os dados são, como vimos na pandemia, uma mina de informações relevantes. Se os tratamos bem e os endentemos como merecem poderemos estar mais perto das questões que preocupam o público, levando um conhecimento mais preciso que um simples “as vacinas têm efeitos secundários”: quais são, com que frequência se dão, e como se comparam com os efeitos graves em não vacinados? Esses são os tipos de perguntas que faremos aos dados. Concretas, mas atadas ao interesse público. Para responde-las, podemos aplicar conhecimentos aritméticos essenciais, como este trabalho que respondia precisamente o exemplo dos efeitos secundários das vacinas, dimensionando-os e dando tranquilidade e guia para milhões de pessoas em um momento chave.
Também podemos mergulhar nos dados chave, armados com as perguntas básicas do jornalismo, mas aplicadas aos dados: onde, quando, quem, como e por que se gerou esses dados. Assim poderemos identificar vieses e riscos. Por que não, não existem dados perfeitos: de novo, o objetivo é estar cada vez um pouco menos equivocados, não acertar para sempre.
Todo o dito anteriormente deveria estar em uma relação normalizada com o que aparentemente é o grande inimigo em comum da ciência e do jornalismo: a incerteza. Na verdade, ela é uma inimiga inevitável: não existe o conhecimento total e definitivo por causa da própria natureza mutante da realidade, e pelos limites cognitivos do ser humano. No fundo, devemos supor que isso é algo que o público já sabe, apesar de oferecer resistência à incerteza.
E isso quer dizer que poderemos inclusive produzir histórias através da incerteza, ou ao redor dela. A pandemia nos deixou exemplos maravilhosos, como o relato da lenta, mas enorme mudança social que se produziu ao se entender pouco a pouco que a ventilação era chave na luta contra o contágio, muito mais do que a desinfecção de superfícies.
Essa nova relação com a incerteza nos vai ajudar no que deve ser nosso objetivo central na produção da precisão: construir credibilidade com o nosso público. Mais vale se ater corretamente aos limites do conhecimento no longo prazo que responder a tudo de maneira veemente no curto prazo. A precisão não é uma resposta final, mas provisória, sentada sobre a evidência disponível.
Se alguém tivesse demonstrado a Phillip Meyer que na realidade a hipótese para explicar as revoltas de sua Detroit natal era outra, com toda certeza ele a teria aceitado, servindo ao seu público antes que a si mesmo. Paradoxalmente, esta é a única maneira de proteger a legitimidade de sua palavra até o fim da sua carreira. Não há, creio, opção mais honesta neste trabalho.
* É doutor em sociologia (Universidade de Genebra) e mestre em política pública (Erasmus University Rotterdam). Atualmente é analista de dados da edição americana do jornal EL PAÍS e diretor adjunto do think tank Esade-EcPol. Em ambas as frentes cobriu a pandemia desde ângulos específicos: a tradução da evidência científica disponível sobre como navegar na situação atual e futura; e os dilemas da decisão (tanto pessoais como coletivos) que implicam essa navegação.
Sobre o Prêmio Roche
O Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde é uma iniciativa da Roche América Latina com a Secretaria Técnica da Fundação Gabo, que busca premiar a excelência e estimular a cobertura jornalística de qualidade sobre temas de saúde e ciência na América Latina, integrando os olhares sanitário, econômico, político, social, entre outras áreas de investigação no jornalismo.
Para mais informação ou para tirar dúvidas sobre a décima edição do Prêmio Roche, escreva para o email: premioroche@fundaciongabo.org