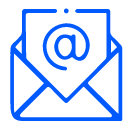Colunistas

A fumaça ao longe
Por: Santiago Wills*
Em setembro de 1887, Nellie Bly, uma jovem jornalista estadunidense desempregada, aceitou agir como uma doente mental para escrever uma crônica sobre um hospital psiquiátrico para o New York World, jornal de Joseph Pulitzer. Para entrar no lugar, Bly simplesmente se registrou em uma casa para mulheres trabalhadoras e aparentou estar triste a maior parte do tempo. Chorou e se queixou de ter perdido suas malas até a encarregada do lugar chamar a polícia. Levaram Bly ante um juiz e, depois de um pouco de histrionismo, a mandaram para o Hospital de Bellevue.
Ali, os médicos perguntaram sobre seus amigos e família – Bly disse que era cubana e que sempre viveu sozinha -, se tinha amantes ou estava casada – respondeu não a ambas perguntas – e se não tinha um homem que cuidasse dela – Bly teve que se segurar para não bater no doutor de plantão. Depois de vários interrogatórios, a enviaram para o Asilo para Loucos da Ilha de Blackwell, hoje chamada Ilha Roosevelt. “Positivamente louca”, avaliou um dos médicos ante uma enfermeira.
Bly passou dez dias no manicômio. Ficou trancada com mais 1.600 mulheres. Em Dez dias em um manicômio, as crônicas que escrevera ao sair de lá, Bly documentou as condições deploráveis do lugar, as arbitrariedades de enfermeiras e médicos, e os abusos que as pacientes sofriam como parte do tratamento. De acordo com a jornalista, as mulheres tomavam banho com água fétida e gelada, as pacientes supostamente violentadas eram amarradas pela cintura com cordas e cintos de couro, e a única distração permitida às reclusas, além de caminhar no pátio, era andar em um carrossel instalado nos jardins do manicômio uma vez por semana.
Seus textos levaram a uma investigação e a mudanças substanciais na Ilha de Blackwell. “Deixei a ala das loucas com prazer e pesar”, escreveu, “prazer por poder desfrutar novamente da liberdade do céu; e pesar por não poder trazer algumas das pobres mulheres que viveram e sofreram comigo e que, estou convencida, eram tão sensatas como eu era e sou”.
As crónicas de Bly foram umas das primeiras em provocar repercussões ao cobrir com empatia e sem sensacionalismo os pacientes com problemas de saúde mental. Apesar do machismo, o desconhecimento, os preconceitos, e o estigma que rodeavam esses temas na época, a estadunidense conseguiu descrever de maneira comovedora e com respeito as condições nas quais as mulheres internadas na Ilha de Blackwell viviam.
A tarefa não é simples, inclusive hoje. Ainda temos muito dos preconceitos sobre saúde mental que existiam no século XIX ou no século XX. O sensacionalismo costuma ser a regra quando se pensa nas doenças relacionadas à mente, em parte pela ignorância científica que permeia este âmbito, em parte pela morbidez própria que acompanha esses problemas.
Há, além disso, uma inclinação natural a pensar que incluir detalhes “sensacionalistas” sobre esses temas os torna mais atrativos ou poderosos. A ideia não é despropositada: as descrições detalhadas ou as imagens de pessoas com problemas mentais costumam causar choques ou produzir efeitos de longo prazo no público. Algo similar acontece com os eventos violentos (pense, por exemplo, nas fotografias de guerra como a de Phan Thi Kim Phuc, conhecida como “a menina napalm”): os detalhes do horror ficam gravados na memória.
Não obstante, há diferenças cruciais no caso da saúde mental. Por um lado, as descrições podem contribuir à estigmatizarão e, por outro, podem ter efeitos nocivos, como mostra o efeito Werther.
Assim sendo, o jornalismo tem responsabilidades adicionais na hora de cobrir temas de saúde mental. Não devemos nos limitar a informar, mas devemos cuidar da maneira em que fazemos isso. Isso implica que muitas vezes as estratégias narrativas mais poderosas em outros contextos não são as indicadas. Às vezes, girar a câmera e fotografar a fumaça ao longe pode ser mais contundente que o corpo nu que foge das chamas.
Nellie Bly entendeu uma versão disso há quase 135 anos. Percebeu que a história não estava nas doenças mentais que as mulheres da Ilha de Blackwell tinham (ou não), mas no que acontecia ao seu redor. Parte dessa descoberta nasceu de um método radical que todos devemos praticar de uma forma ou outra na nossa apuração. Bly, como já se disse, fez-se passar por uma doente mental.
A recomendação, obviamente, não é que que os jornalistas façam isso, mas que entendam que ao falar sobre pessoas com problemas de saúde mental, não nos referimos a seres diferentes, com quem não é possível se relacionar.
E aqui é importante apontar um dado crucial da história: ao entrar na Ilha de Blackwell, Bly parou de atuar. Os dez dias em que ficou presa no manicômio, ela conviveu com as outras pacientes sem máscaras, e dessa maneira as reconheceu, aceitou e se comoveu diante da situação delas. Sem dúvidas, é isso o principal. Ver, entender (com a ajuda da ciência, claro) e se reconhecer nos outros.
*É um escritor e jornalista colombiano. Venceu por duas vezes o Prêmio Simón Bolivar e foi finalista por duas vezes do Premio Gabo. Em 2016 foi bolsista Rosalynn Carter em Jornalismo de saúde mental. Jaguar, sua primeira novela, foi publicada em janeiro de 2022.
Sobre o Prêmio Roche
O Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde é uma iniciativa da Roche América Latina com a Secretaria Técnica da Fundação Gabo, que busca premiar a excelência e estimular a cobertura jornalística de qualidade sobre temas de saúde e ciência na América Latina, integrando os olhares sanitário, econômico, político, social, entre outras áreas de investigação no jornalismo.